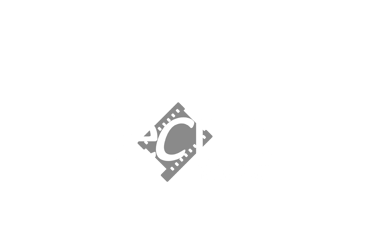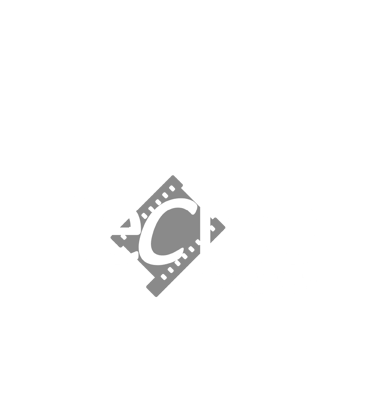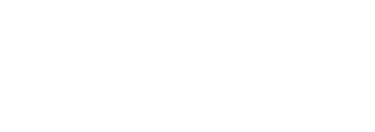A guerra d’água em Aluguel: O Filme
EDIÇÃO 2025
Milton Ricardo
11/5/20255 min read
Que o juízo de gosto diante de imagens de péssima qualidade suscite avaliações negativas, não é algo que nos é incomum ou que nos surpreenda. Mesmo que o julgamento alheio seja subjetivo, isso não significa que seja menos hegemônico diante dessa característica da imagem. Mas claro, pode haver algumas distinções no porquê de determinada imagem ser como ela é quando assistimos a um filme, por exemplo, a intenção do diretor, o desleixo que imperou no set de filmagem ou mesmo a falta de condição de produzir uma imagem com uma melhor qualidade, são alguns dos fatores que poderiam resultar uma determinada imagem.
Quando nos colocamos essas hipóteses, depois de assistirmos uma obra como Aluguel: O Filme (2014) de Lincoln Péricles, o espectador sensível a forma e o conteúdo parece ser guiado mais pela intenção somada à falta de condição, do que por um possível desleixo na direção. Temos uma câmera que em muitas cenas treme enquanto filma, um zoom que pixeliza (diminui a qualidade), somado aos dilemas de um personagem que trabalha com cinema, ou mais especificamente, “só abre e fecha o tripé” Mora no Capão Redondo, periferia de São Paulo, e sofre com problemas no transporte público, pouco dinheiro e, principalmente, falta de água. Seria o personagem um reflexo do diretor? Um reflexo da condição de nosso cinema subdesenvolvido?
A relação que o espectador mantém com determinada obra está de acordo com a percepção do mesmo para o que ele vê, com isso, poderíamos mesmo se perguntar se o olho, o ouvido, o corpo ou o espírito, conseguiriam captar todo o clima de suspeita que irrompe do curta-metragem, seja pela câmera que se faz de olho, de panóptico ou de stalker, e que de cima pra baixo visa as janelas do prédio, a garagem, algumas árvores e as grades que enclausuram os moradores dentro do condomínio onde o personagem mora, ou seja pela fato dele enganar com o artifício da narração em voz off, onde se ouve falar em francês sobre a guerra do Vietnã, ou pelo menos primeiro sobre o Vietnã e depois sobre Capão Redondo, é a primeira manifestação de uma linguagem indireta.
O curta propriamente traduz as primeiras palavras da narração (“A reunificação pacífica do Vietnã não acontecerá”) sem nenhuma alteração significante, detalhe que ao longo da “tradução” irá ser consumido pela ideia do aforismo italiano que encara o tradutor enquanto traidor (traduttore traditore). Se o áudio aqui utilizado remete ao momento de flashbacks da guerra do vietnã sendo encenadas por filmagens de arquivo do filme Longe do Vietnã (1967) dirigido por Chris Marker (e co-dirigido por Joris Ivens, Claude Lelouch, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Agnès Varda e William Klein), Aluguel se utiliza de toda essa singularidade (a má qualidade característica do arquivo e o roubo de uma narração), transportando-a para a má qualidade de sua própria filmagem, assim como tudo o que é falado sobre o Vietnã é transfigurado para o solo de Capão Redondo e seu contexto: a polícia como “coxinha”, o “busão lotado todo dia” e o “patrão enchendo o saco”.
A narração que continua de fundo opera mais como um devir que fundamenta toda a experiência do personagem que se manifesta através da legenda. Todo o sistema de funcionamento do curta está velado, toda traição, mudança ou insinuação é minuciosa.
Em filmes como Chico Voltou Só (2024), de Douglas Gadelha, a maneira que se utiliza o arquivo se assemelha a maneira usada em Longe do Vietnã: sempre à contrapelo, com os
fantasmas do arquivo assombrando a tela concomitante a uma narração sentimentalmente vital e engajada politicamente. É um cinema que apela tanto pela reavaliação histórica, que reclama para si mesmo um nome que tem seu ethos já embutido, este é o cinema de contra-arquivo, contra todo o massacre do que nos é instituído. Lincoln diferencia-se, faz um outro uso do arquivo, menos sentimental e mais cômico, seu garimpo é longe do agenciamento dos órgãos públicos e mais próximo ao público de massas, pelo menos é assim que se insinua a utilização do episódio “A falta de água na vila”, do seriado Chaves que, ao contrário da narração como artifício e sua dupla função (trair-enganar e servir como espírito de fundo), reflete à maneira ingênua, tola e impaciente de Chaves, Chiquinha e Seu Madruga a trama central do curta: a falta de água na periferia. Uma questão que poderia ser levantada é: onde se dá essa falta? O que temos dentro da casa de nosso personagem é uma verdadeira guerra, a pia da cozinha cheia de pratos, copos e talheres.
A casa nos é apresentada com uma cena que divide banheiro e quarto através de uma pilastra. Um ruído de Tragtenberg ao fundo nos dá um sentimento de que junto do personagem, uma mosca já mora na casa. A repetição do ato de abrir a torneira ou dar descarga inúmeras vezes e sempre falhando. O sentimento angustiante de falta e de não poder dar vazão aos dejetos é amplificado com um close-up em diagonal da torneira somado ao close-up do buraco da privada, onde só se vê o amarelo-urina misturado aos cuspes do personagem. Mas lá fora o céu está cinza, com um vento forte e uma chuva que impera no personagem o sentimento de haver água em abundância mas não poder possuí- lá ou mesmo de estar preso em sua própria casa, já que muitas vezes é a sobreposição de grades que revela quando a câmera-olho vê as crianças à brincar lá fora junto a chuva.
Quando o rosto melancólico do personagem não rouba para si a tela toda, só vemos seu reflexo no vidro ou seu corpo distante em uma conversa com algum outro morador. Essa maneira de se apresentar só é interrompida quando finalmente a água volta, mas ela volta quando é hora de trabalhar e o mesmo só tem tempo de preparar um café e sair rumo ao metrô: agora não há tempo para dar conta dessa zona de guerra.
Podemos dizer que em toda a imersão no personagem que este curta nos proporciona, apresenta dois momentos do mesmo, um antes e depois da falta da água, quando ele deixa de lado seu boné e sua camiseta cinza com o escrito “RAP é compromisso”, colocando em si uma camisa polo azul; quando ele deixa a melancolia de dentro da casa para habitar a melancolia de dentro do transporte público, através de seus túneis que abrem buracos no corpo desde nosso personagem que dão vazão a toda sua humanidade. Aqui, o buraco é mais profundo mesmo, e a realidade da vida não pode ser transposta por meio da sua imagem em público, só este cinema que mesmo por vezes distanciado de seu principal foco, ainda assim fita as principais instâncias de sua vida, seja por planos arquitetônicos e divisórios, registro de conversas íntimas, reflexos na janela.
A cena que se coloca como final, um nascer ou pôr do sol, visto como nos jornais com a cidade sendo vista de cima para baixo e o sol laranja se manifestando ao fundo, nos mostra a inevitável repetição que permanece sobre a vida desse fechador de tripé, repetição essa conterá uma diferença? Parece ser uma chance de elaborar uma nova relação com o seu meio de trabalho, mas que tempo há para pensar nisso já que temos que dar conta de limpar toda aquela zona de guerra? O adeus para esse personagem nos escancara dois pontos altos que revelam a relação do fazer cinema e logo do por que ele é de tal forma: a primeira é um retorno, “A reunificação pacífica do Vietnã não acontecerá”, muito menos a ressurreição pacífica do morador do Capão Redondo, a segunda, podemos encontrar fora do filme, quando olhamos para trás em nossa história cinematográfica, “esmagado e explorado, o colonizado só pode inventar seu próprio sufocamento: o grito do protesto vem da mise en scène abortada. Ninguém pensa de forma limpa e estética de barriga vazia”, e isso colhemos da leitura do macaco Sganzerla.
Bom dia Vietnã. Bom dia Capão Redondo. Bom dia cinema brasileiro subdesenvolvido.


Realização
Apoio

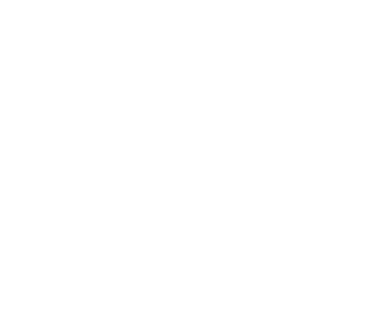
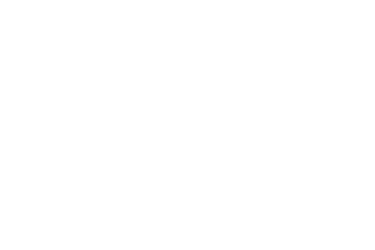
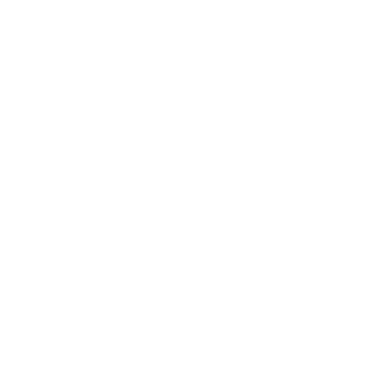






Financiamento